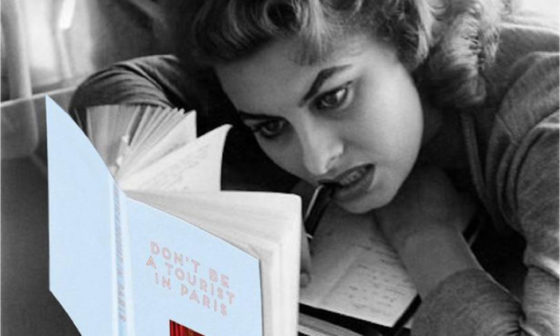Apesar da performance brilhante de Olivia Colman, o filme “A Filha Perdida” não me conquistou da primeira vez que o assisti. Alguma coisa ali me pareceu estar fora da ordem. E precisei de uma nova tentativa para enfim entender o que estaria por trás dessa minha instantânea e afiada crítica, contramão dos elogios unânimes que pipocaram logo depois da sua estreia. Talvez, quem sabe, enxergara parcialmente algo vivo apenas nas minhas entrelinhas, e não na história contada por Maggie Gyllenhaal – diretora e roteirista.
Uma mulher que durante suas férias numa pequena e idílica ilha da Grécia se vê mergulhada em reflexões sobre as escolhas que fez ao longo da vida, entre flashbacks e uma sombria similitude, esmiuçando o paraíso e inferno de ser, estar, sonhar, e sobreviver, com o tempo. Isso é tudo e não é pouco, íntimo e quase claustrofóbico, alinhavados pela fotografia de Hélène Louvart e montagem de Affonso Gonçalves.

O fato da maternidade estar sendo desnudada das suas mais obscuras faces, e de certa forma, poupada, na sua vulnerabilidade, levantou o meu escudo de certezas que até aquele momento haviam se mantido inquestionáveis sobre o assunto. Sou defensora do instinto que nos conecta à cria, da capacidade animalesca que possuímos de priorizar, indiscutivelmente, o ser indefeso que nos foi colocado nos braços para proteger. E embora reconheça as angústias que vive a personagem, sua dor, as dúvidas, a raiva, a culpa (ahhh a culpa, tão bem personificada na boneca que ela rouba e tenta restaurar, desesperadamente, como se fosse possível resgatar o que fora destruído), não me solidarizei inicialmente com a agonia da sua “mea penitência”.
Eu poderia restringir a minha opinião, boa conhecedora que sou dessas marés, apenas à cumplicidade dessa nossa condição materno- feminina. Seria o correto. Mas o meu encontro com Leda extrapola o roteiro, o livro, a imaginação de Elena Ferrante, que sensivelmente procurou descrever a humanidade da extensão desse trabalho solitário que ainda hoje é ser mãe. A minha antipatia, descobri, nada tem a ver com o arrependimento que nos fizeram acreditar ser o motor do seu looping quase autodestrutivo. Ela vem da minha convivência com as cicatrizes de uma dessas escolhas, casada eu mesma com um “filho de Leda”, testemunha e guardiã das sequelas de um abandono irreparável. O verso do reverso. É aí que estava escondida a minha desordem. Absolvê-la, de certa forma, desvalidaria as desculpas que usei para justificar os cacos que precisei juntar. E não foram (são) poucos ou pequenos.

Proteger a ferida de quem ficou para trás dificultou a minha compreensão sobre o que poderia estar acontecendo em “A Filha Perdida”. A possível redenção da mãe que deixa as duas filhas aos cuidados do pai e da avó e desaparece por três anos. Não é bem assim. Somos complacentes com as falhas que cometemos, mas julgadores ferozes daqueles que por covardia, fraqueza, incapacidade, decidiram cortar pela raiz um ciclo de más decisões. E isso é também injusto.
Se abrimos mão tantas e tantas vezes de nós mesmas, porque dos filhos seria mais abominável? Porque desistir da mulher continua sendo aceitável, até mesmo celebrado, e da maternidade, socialmente, um dos crimes mais hediondos? Dentro de uma realidade onde a paternidade segue uma trajetória praticamente alegórica, coadjuvante quando muito, na formação dos nossos descendentes. Porque?
Terminei a minha última e conclusiva sessão Netflix com a sensação de fechamento, catarse dos meus furores de parcialidade protetora. Libertei a nora, a esposa, e a mãe, que coexistem em mim, em harmonia com o sagrado feminino que nos une, todas, numa única ciranda. Esse privilégio é todo meu. O meu amor, pobre dele, terá que carregar os seus traumas até o fim.